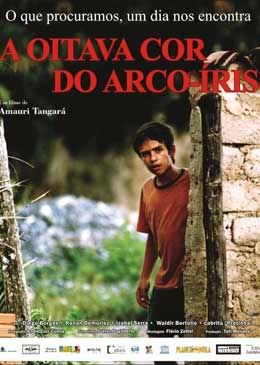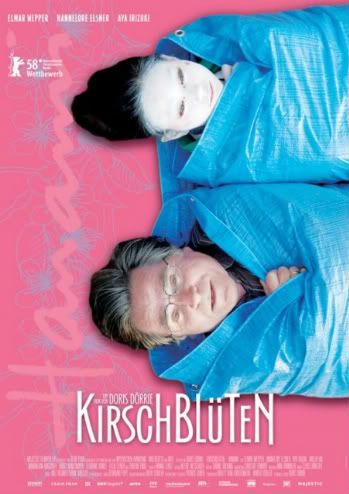Um autêntico «filme freudiano» — se tal género existisse, este título situar-se-ia entre os exemplos obrigatórios para a sua compreensão —, G.W. Pabst regista o percurso de Lulu (Louise Brooks), um ser absolutamente sexual que oscila entre o passivo objecto de desejo e a activa sedutora com plena confiança dos seus instintos, para ilustrar os conceitos da Psicanálise que nos finais dos anos 20, sobretudo através do Surrealismo, começaram a dominar e influenciar variadas manifestações artísticas (no Cinema, um ano antes, Man Ray realizara
L’ÉTOILE DE MER e, em 1929, Buñuel escandalizava Paris com
UN CHIEN ANDALOU).
Contextos históricos e artísticos à parte, A BOCETA DE PANDORA disseca as inconsciências de amor, luxúria, traição, inveja e homicídio, centrando-se, de forma consciente, nos podres e baixios das relações humanas. Para tal, temos a referida protagonista como catalisadora da libido masculina em todas as suas expressões: Ludwig Schön, o ilustre editor de um jornal, deixa-se seduzir e arruinar, social e fisicamente, por Lulu; o filho dele, Alwa, não é capaz de esconder o amor que sente pela antiga amante do pai e foge com ela para também enfrentar um destino infeliz; a Condessa Geschwitz — segundo alguns autores, "
a primeira personagem assumidamente lésbica" da Sétima Arte — dança apaixonadamente com Lulu e ignora a sua auto-estima para lhe demonstrar a sua atracção; e até Jack, O Estripador hesitará na sua presença, antes de agarrar na faca e cometer o género de crimes pelos quais se notabilizou.

Em A BOCETA DE PANDORA, é clara a associação entre sexo e morte, seja ela literal ou metafórica, que o argumento subentende. Este facto, para além de (novamente) invocar os escritos de Freud, justifica o apelo ao mito grego da caixa que, depois de aberta, soltaria todos os males do mundo para caracterizar a protagonista, pois é devido ao seu comportamento "afoito" e ambíguo que a tragédia toma conta do filme. Mas, na História do Cinema, estamos perante uma
femme fatale muito peculiar: embora exiba todos os traços dessa personagem-tipo, Lulu é-o mais por acidente do que por determinação, circunstância que levará não só à devastação daqueles que a rodeiam como também à sua própria morte.
[Existem aqui outras e inúmeras personificações de conceitos psicanalíticos que, por si só, dariam um texto muito exaustivo. Contudo, não resisto a realçar aquele casino de "devassos costumes" no interior mais recôndito do barco onde Lulu e Alwa se refugiam, como uma genial analogia ao id ou, segundo Freud, a zona da psique humana onde a moral e as regras da sociedade não encontram lugar e situado nas "profundezas" do cérebro.]

O mérito dessa caracterização tem o nome de Louise Brooks, actriz americana sobre a qual Henri Langlois, o histórico director da Cinemateca Francesa, escreveu que "
ninguém poderá esquecê-la depois de a ver" e que G.W. Pabst resgatou de uma condenada carreira nos Estados Unidos. Com o seu aspecto de
coquette infantil mas munida de sorriso irresistivelmente lascivo e método de interpretação extremamente actual, Brooks continua a deixar marca indelével nos espectadores, sobrepondo-se aos dominantes chiaroscuro e expressionismo formal que A BOCETA DE PANDORA, enquanto produção alemã dos anos 20, inevitavelmente exibe.
Na sua data de estreia, foi completamente arrasado pela crítica. Hoje, trata-se de um clássico obrigatório, com um ícone do cinema mundial à frente do elenco, e digno de acolhimento público.
Samuel Andrade.
Nota: este texto reflete apenas a opinião do autor, não representando a visão geral do 9500 Cineclube.